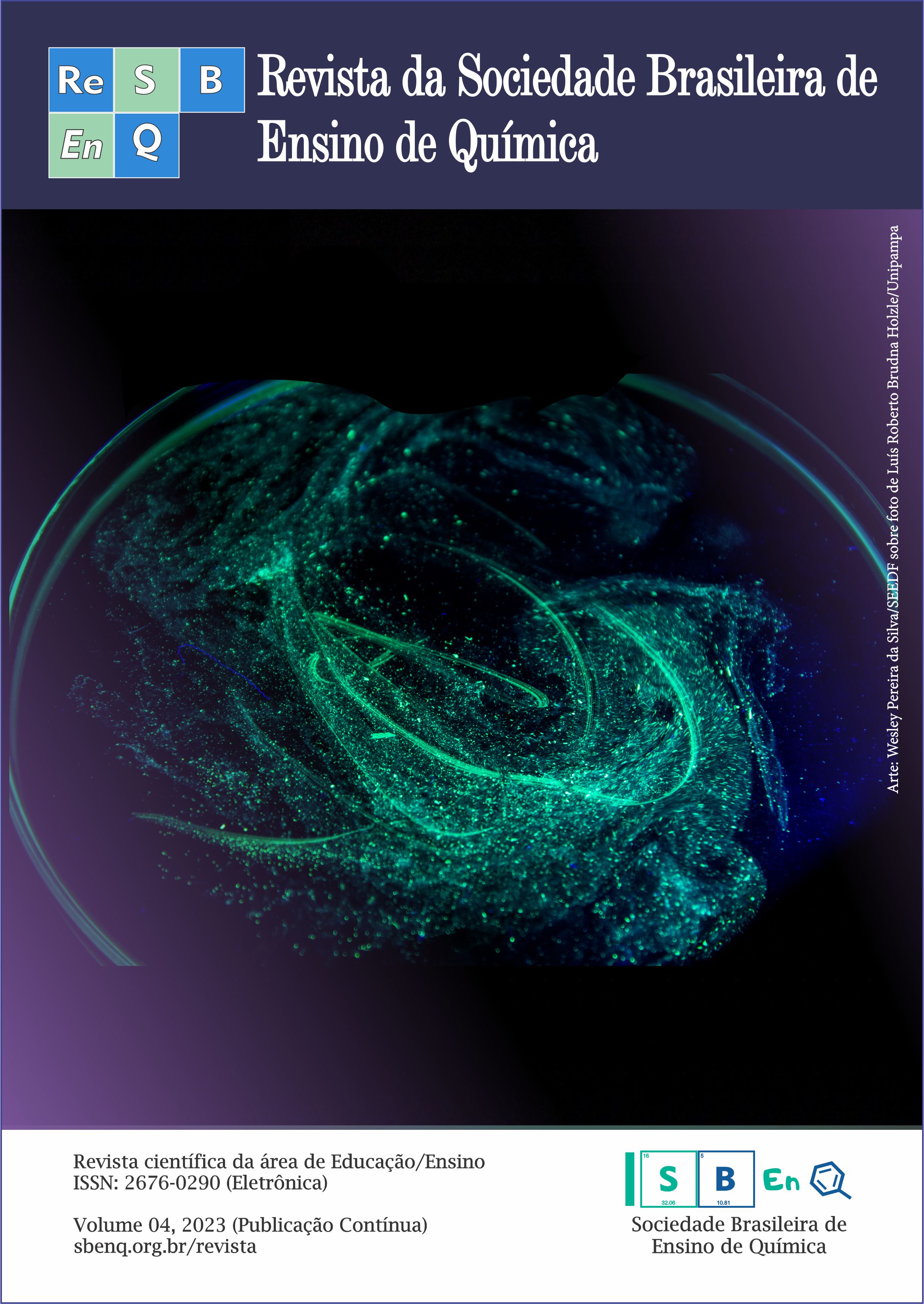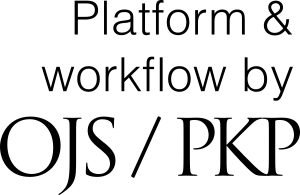Inserção de Saberes Tradicionais no Ensino de Química: a necessária coerência teórica
DOI:
https://doi.org/10.56117/resbenq.2024.v5.e052417Keywords:
Traditional Knowledge, Interculturality, Philosophy of Chemistry EducationAbstract
O presente trabalho, de natureza teórica, constitui um ensaio sobre a coerência teórica na inserção de saberes tradicionais no ensino de química. Seu objetivo é compor um olhar filosófico sobre tal inserção e argumentar a favor de uma reflexão epistemológica e política sobre esta temática dentro do campo nascente da filosófica do ensino de química. Os saberes científicos e tradicionais são caracterizados e sua relação é problematizada. Discutem-se os possíveis objetivos do diálogo entre tais saberes no ensino de ciências/química. Então, problematiza-se o olhar a partir do qual se pode investigar culturas em busca de identificar saberes tradicionais análogos aos saberes químicos. Finalmente, são discutidas articulações teóricas que têm sido investigadas com o objetivo de constituir bases para um diálogo de saberes no contexto do ensino de ciências/química e questões ainda deixadas em aberto por tais articulações são apresentadas. Argumenta-se que a reflexão epistemológica sobre os saberes tradicionais no ensino de química é necessária para garantir coerência teórica entre (1) os objetivos de inserção de saberes tradicionais no currículo de ciências, (2) o status epistemológico que se confere à ciência/química frente a outras formas de conhecimento e (3) as questões éticas, históricas, sociais, culturais e políticas que permeiam o desenvolvimento da química e do ensino de química. Essa reflexão está iniciada na literatura, mas demanda ainda um olhar direcional para especificidades da química. Como exemplo, foram formuladas algumas questões em torno dos conceitos de substância e reação, bem como a respeito da circularidade e dualidade de conceitos químicos, como acidez e basicidade. Tais perguntas podem ser organizadas em torno de linhas de pesquisa num sentido de construção dessa desejada coerência teórica.
References
Alvino, A. C. B., Silva, A. G., Lima, G. L. M., Camargo, M. J. R., Moreira, M. B., & Benite, A. M. C. (2021). Metalurgia do ferro em África: A Lei 10.639/03 no Ensino de Química. Química Nova Na Escola, 43(4), 390–400.
Bensaude-Vincent, B., & Simon, J. (2012). Chemistry: the impure science. (2a ed). Imperial College Press.
Brasil. (2003). Lei n. 10.639, de 09 janeiro de 2003. Inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
Brasil. (2004). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. https://download.inep.gov.br/publicacoes/diversas/temas_interdisciplinares/diretrizes_curriculares_nacionais_para_a_educacao_das_relacoes_etnico_raciais_e_para_o_ensino_de_historia_e_cultura_afro_brasileira_e_africana.pdf
Cajete, G., & Bicalho, C. (2017). Uma introdução à ciência indígena e suas leis naturais de interdependência. Em Tese, 23(1), 217–224.
Cantanhede, E. M. B., Costa, W. F. da, Santana, R. de O., Ferreira, L. da C., Silva, W. P. da, & Mól, G. de S. (2019). Revoada dos Cupins e Piracema: Proposta para o Ensino de Química. Revista Debates Em Ensino de Química, 5(1 ESP), 151–163.
Cobern, W., & Loving, C. (2001). Defining “science” in a mulicultural world: Implications for science education. Science Education, 85(July), 50–67.
Cunha, M. C. da. (2007). Relações e dissensões entre saberes tradicionais e saber científico. Revista USP, 75, 76–84.
D’Ambrósio, U. (2008). O Programa Etnomatemática: uma síntese. Acta Scientiae, 10(1), 07–16.
El-Hani, C. N. (2022). Bases teórico-filosóficas para o design de educação intercultural como diálogo de saberes. Investigações Em Ensino de Ciências, 27(1), 01.
El-Hani, C. N., & Mortimer, E. F. (2007). Multicultural education, pragmatism, and the goals of science teaching. Cultural Studies of Science Education, 2(3), 657–702.
Ferreira, L. D. C., Cantanhede, E. M. B., Costa, W. F. D., Santana, R. D. O., Silva, W. P. D., & Mól, G. D. S. (2020). A obtenção artesanal do tucupi: saberes populares e o Ensino De Química. Revista Debates Em Ensino de Química, 5(1 ESP), 139–150.
Figueirôa, S. F. M. (2023). Postcolonial and Decolonial Historiography of Science. In Condé, M. L., & Salomon, M. Handbook for the Historiography of Science, (pp. 523–542). Springer.
Gaudêncio, J. (2022). Interculturalidade no ensino de ciências: uma revisão sistemática da literatura. Revista Da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade, 31(67), 325–340.
Gaudêncio, J., Paulo Jorge Rodrigues, S., Martins, D. R., & Silveira, R. M. C. F. (2021). Conhecimento tradicional Kaingang: o uso de ervas medicinais. Odeere, 6(2), 35–53.
Gois, J. (2019). Filosofia do ensino de ciências e de química. Revista Debates Em Ensino de Química, 5(2), 5–18.
Gonzaga, K. R., Nóbrega, L. N. N., Camargo, M. J. R., & Benite, C. R. M. (2022). Licenciatura intercultural indígena e o ensino de química: uma discussão sobre concepções de formadores e o currículo em ação. Revista Debates Em Ensino de Química, 8(3), 30–53.
Laszlo, P. (1999). Circulation of concepts. Foundations of Chemistry, 1, 225–239.
Lederman, N. G. (2007). Nature of Science: Past, Present, and Future. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 831–880). Routledge.
Lemes, A. F. G., & Porto, P. A. (2013). Introdução à filosofia da química: uma revisão bibliográfica das questões mais discutidas na área e sua importância para o ensino de química. Revista Brasileira de Pesquisa Em Educação Em Ciências, 13(3), 121–147.
Matthews, M. R. (1995). Multicultural Science Education: The Contribution of History and Philosophy of Science. In K. Gavroglu, J. Stachel, & M. . Wartofsky (Eds.), Science, Mind and Art (pp. 149–168). Springer.
Mendonça, A. L. de O. (2012). O legado de Thomas Kuhn após cinquenta anos. Scientiae Studia, 10(3), 535–560.
Mignolo, W. D. (2020). Histórias Locais / Projetos Globais: Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar (1 ed.). Editora UFMG.
Mortimer, E. F. (1996). Construtivismo, mudança conceitual e ensino de ciência: para onde vamos? Investigações Em Ensino de Ciências, 1(1), 20–39.
Ogawa, M. (1995). Science education in a multiscience perspective. Science Education, 79(5), 583–593.
Pinheiro, P. C., & Giordan, M. (2010). O preparo do sabão de cinzas em minas gerais, brasil: do status de etnociência à sua medição para a sala de aula utilizando um sistema hipermídia etnográfico. Investigações Em Ensino de Ciências, 15(2), 355–383.
Ribeiro, M. A. P. (2016). A emergência da Filosofia da Química como campo disciplinar. Revista Brasileira de Pesquisa Em Educação Em Ciências, 16(2), 215–236.
Ruthenberg, K., & Harré, R. (2012). Philosophy of chemistry as intercultural philosophy: Jaap van Brakel. Foundations of Chemistry, 14, 193–203.
Ruthenberg, K., & Mets, A. (2020). Chemistry is pluralistic. Foundations of Chemistry, 22, 403–419.
Santana, R. de O., Silva, W. P. da, & Mol, G. de S. (2021). Diálogo de saberes, trabalho de tradução e intercientificidade. Debates Em Educação, 13(2 ESP), 270–288.
Santos, B. de S. (1995). Um Discurso Sobre as Ciencias. (7a ed). Edições Afrontamento.
Santos, B. de S. (1997). Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista Crítica de Ciências Sociais, 48, 11–32.
Santos, B. de S. (2021). O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do sul (1.). Autêntica.
Santos, M. A. do, Camargo, M. J. R., & Benite, A. M. C. (2020). Vozes Griôs no Ensino de Química : Uma Proposta de Diálogo Intercultural. Revista Brasileira de Pesquisa Em Educação Em Ciências, 919–947.
Silva, E., Camargo, M., & Benite, A. (2021). Cerveja egípcia? Educação para as Relações Etnico-Raciais (ERER) na formação docente em química. Química Nova, 45(2), 235–244.
Silva, G., & Ujiie, N. (2022). Implementação da Lei 10.639/03 na Prática Pedagógica da Educação Básica: estudo Mediatizado pela Base de Dados Scielo. Ensino & Pesquisa, 20(3), 156–168.
Soentgen, J., & Hilbert, K. (2016). A química dos povos indígenas da américa do sul. Quimica Nova, 39(9), 1141–1150.
Sousa, A. C., Viudes, M. M., Melo, C. de S., Momo, L. F., França, M. S. A. de S., Ferreira, B. R., Gutierrez, G. L., & Fernandes, J. M. F. M. (2024). Desafios e possibilidades na formação docente: a educação antirracista e os vinte anos da implementação da lei 10.639. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 10(4), 1955–1963.
Vanuchi, V. C. F., & Raupp, D. T. (2022). Revisão Sistemática de Literatura acerca da abordagem da temática indígena no Ensino de Ciências. Amazônia: Revista de Educação Em Ciências e Matemáticas, 18(40), 274–286.
Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural. In J. T. L. Walsh, C. Viaña (Ed.), Construyendo Interculturalidad Crítica (pp. 75–96). Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.
Walsh, C. (2019). Interculturalidade e Decolonialidade do poder: um pensamento e posicionamento “outro” a partir da diferença colonial. Revista Eletrônica Da Faculdade de Direito Da Universidade Federal de Pelotas, 5(1), 6–39.
Published
Issue
Section
Licença Creative Commons
Todas as publicações da Revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Química estão licenciadas sob licença Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC BY 4.0).
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attributionque permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho on-line(ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).